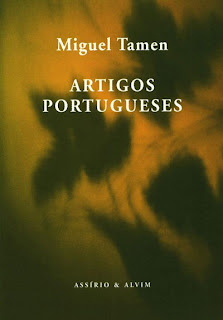domingo, 21 de abril de 2013
O fim
Durou pouco, o malconfort. Regressei à boa companhia do Bruno Vieira Amaral e do Rui Passos Rocha. E ainda juntámos o Frederico Gama à brincadeira. Estaremos aqui, a tentar atentar ao pudor.
sábado, 16 de março de 2013
segunda-feira, 11 de março de 2013
Dois mais dois
O senhor Schulz, alemão, socialista, lembra que depois dos bancos é preciso não destruir o resto. O senhor Juncker, luxemburguês, lembra, talvez com mais pertinência ainda, que a história é uma vadia que regressa com uma regularidade desagradável. Não são génios. Não dizem, sequer, grandes novidades. Tudo isto é tão evidente que o que de facto nos devia estarrecer é a falta de consenso.
quarta-feira, 6 de março de 2013
O grande amigo
Ontem morreu um amigo de Portugal. Ou pelo menos de bastantes portugueses. As reacções, mais que muitas, mostram isso mesmo: Paulo Portas quis «sublinhar» as «provas de amizade com Portugal»; o Partido Socialista, além de referir a amizade, vai mais longe e «presta-lhe homenagem»; Mário Lino está «muito pesaroso»; o PCP, evidentemente, «honra a memória» do senhor. Mas não se pense que Chávez era apenas um amigo de Portugal. Tinha outros amigos. Durão Barroso, que ainda é Presidente da Comissão Europeia, elogiou o «desenvolvimento social» da Venezuela; Hollande, no meio de «profundas e sentidas condolências ao povo venezuelano», aponta a «luta pela justiça e desenvolvimento», os nossos bons vizinhos espanhóis falam numa «grande personalidade». É isto. Chávez morreu e todos lamentam. As democracias liberais lamentam a morte de um ditador cuja principal ocupação foi comprá-las com dinheiro fácil. Isso antes de qualquer cuidado com o «desenvolvimento social» do que quer que seja. Das «relações comerciais» e restantes «amizades» sobra um povo na miséria, favelas abjectas, prisões impenetráveis, presos e exilados políticos, além da criminalidade e da violência da vida habitual. Se há moral a retirar de tudo isto, é a de que tendemos, colectivamente, a ser uns grandes filhos-da-puta.
domingo, 3 de março de 2013
Miguel Tamen
«A possibilidade de o futuro ter a cor da barba de Camões irá ser glosada pouco depois no muito inferior «A Portuguesa», de Henrique Lopes de Mendonça, que se inicia com o espectáculo de uma ressurreição dos mortos em que inquietantemente o passado se repete (e que, conjungada com uma partitura dolorosa de Alfredo Keil, inaugura neste ponto uma série de desafinações colectivas).»
Miguel Tamen, em Artigos Portugueses
P.S.: Há, neste livro, pensamentos infinitamente mais sublimes, mas assumindo as limitações minhas, prefiro repescar o que há de mais trauliteiro. Talvez um destes dias comente o resto.
A falta de lubrificante como metáfora
A nossa miséria é a matemática. Trata-se de um fardo nacional. Diria que compreendo: talvez por decorrência própria da propriedade de ser ‘nacional’ (o JPC diria indígena; eu não) também desconfio dessas artes numéricas. Contar cansa-me a vista e calcular gasta-me a alma. Consome-me, em certo jeito. No entanto, malgré tout, uma matematicazinha pontual, discreta e educada faz falta. Principalmente quando, parafraseando o que diria, se falasse, o espírito do tempo, isto anda mau.
Acontece que ontem, dia dois de Março do ano da graça de dois mil e treze, durante a tarde, se manifestaram um pouco por todo o país pessoas que, descontentes com os desenvolvimentos da nossa contingência, se associaram a uma coisa chamada «Que se lixe a Troika – O Povo é quem mais ordena». Eram muitas, as pessoas. E tal não deve surpreender. Pondo de parte eventuais registos mais sarcásticos, a miséria é matéria de facto. No entanto, sendo a miséria factual, acaba vendo-se sozinha na condição. Tudo o resto, de parte a parte, com mais ou menos talento, acaba sendo ficcional. Ou talvez, quem sabe, mero reflexo da restrição velha: a falta de jeito para calcular.
Anunciar que houve em Portugal um milhão e meio de pessoas a manifestar-se ontem é jogo. Principalmente quando, para fundamentar o gordo cardinal se diz que houve 800 mil pessoas em Lisboa. Estamos habituados. De um lado subavalia-se, no outro sobreavalia-se. É a vida e assim. Mas no meio destas tentativas mais ou menos conseguidas de simples manipulação, a essência perde-se e os movimentos desonram-se. A manifestação de ontem valeu por si, pelas pessoas que efectivamente nela participaram. Valeu pela senhora que, a certa altura, disse em directo que lhe estavam a ir ao cu a seco, numa declamação de qualidade superior. Isto, mais que tudo, devia ser ouvido pelos organizadores do movimento. Ninguém precisa de repeteco.
sexta-feira, 1 de março de 2013
Iridescência viva
«Não saber como escrever, mas sentir com a minha intuição criminosa como as palavras se combinam, o que se tem de fazer para que uma palavra comum se anime e comungue do brilho, do calor, da sombra da sua vizinha, ao mesmo tempo que nela se reflecte e a renova no processo, para que cada linha seja uma iridescência viva (...)»
Retirado de «Convite Para Uma Decapitação», de Vladimir Nabokov
(Trad. Carlos Botelho, Assírio e Alvim, 2006)
Retirado de «Convite Para Uma Decapitação», de Vladimir Nabokov
(Trad. Carlos Botelho, Assírio e Alvim, 2006)
quarta-feira, 27 de fevereiro de 2013
Os inúteis dos Camilos
A minha primeira reacção quando vi este vídeo de Camilo Lourenço foi mandá-lo foder. Afinal, há alturas em que o argumento é vão e nem o riso salva. Mas depois dei por mim a pensar que este «vai-te foder» é o que alimenta, ao fim do mês, estes Camilos. Os Camilos avaliam a qualidade das suas perorações pela quantidade de ódio que geram. E as estações, que em nada superam os Camilos, imitam o exercício. Entramos num ciclo de vício, que o ódio é um vício, no qual os Camilos se perpetuam numa bolha autista, mas polémica, e os espectadores se habituam. Por isso, e mesmo sabendo que o exercício é vão para demover o obstinado Camilo da sua ignorância (só por rebeldia poderá Camilo manter-se tão ignorante sobre tantos assuntos), atrevo-me ao esclarecimento dos eventuais leitores deste meu desconforto. Valho mais que o Camilo? Poderia ser cauteloso, mas não: sim.
A tese de Camilo Lourenço não é nova. E até há um possível fundo de verdade nela. Em Portugal, a taxa de desemprego estrutural tem aumentado nos últimos anos. (Na verdade, e em bom rigor, o que tem aumentado em Portugal é média das taxas de desemprego dos últimos anos, não necessariamente o desemprego estrutural, que é um conceito teórico um pouco mais «exigente». No entanto, e para o exercício, assumamos que as duas coisas são o mesmo). Geralmente, aumentos de desemprego estrutural decorrem de desajustes fortes no mercado de trabalho. Pensa-se que estes desajustes podem advir de uma divergência entre as competências procuradas e as competências oferecidas, mas também de factores de cariz institucional mais profundos. Eu atrever-me-ia a dizer, assumindo a elevada falibilidade do exercício, que o problema de aumento «estrutural» do desemprego se deve, acima de tudo, ao atrofio da estrutura produtiva e não a um problema daquilo a que os brasileiros chamam «casamento» entre empregadores e empregados. Atrevo-me, também, a dizer que a análise de Camilo Lourenço, além de básica, é pouco fiel à realidade.
Não é claro ou evidente o que as empresas, enquanto conjunto, querem. Na verdade, esta mania agregadora causa muito disparate. Olhe-se, por exemplo, para um estudo simples feito na revista Atlantic sobre o mercado americano, onde as teses camilianas também fazem o seu caminho. A única certeza que temos é que, em geral, as empresas não querem uma, duas, ou três coisas, mas muitas nos seus trabalhadores. E essas coisas podem ir dos conhecimentos técnicos (como métodos quantitativos, ciências comportamentais, psicologia) a competências não tão técnicas, como capacidade analítica, pensamento crítico, ou lógica. Naturalmente, não há cursos que reunam tudo aquilo que o mercado procura. E, portanto, sim, historiadores, filósofos e antropólogos são úteis. Aliás, as empresas bem-sucedidas tendem a empregar gente de muitas áreas. Olhemos para as principais consultoras, essas futuras referências do nosso tempo. Também a Microsoft é conhecida por empregar muitos antropólogos. E um dos criadores do Facebook licenciou-se em História e Literatura em Harvard. Já para não falar do próprio Camilo Lourenço, cuja licenciatura é em Direito Económico e cujas «passagens» (mais que muitas) por outras universidades foram sempre nestas áreas. Estes são pequenos pontos num universo empresarial de forte dinamismo no recrutamento de gente de variada formação.
Não há evidência de uma baixa produtividade das pessoas formadas em História (um texto interessante, sobre isso da «produtividade do trabalho» pode ser lido no Ladrões de Bicicletas). O que sabemos, logo à partida, é que não serão «inúteis», como apregoa Camilo. Sabemos, também, que há uma série de preconceitos de parte a parte: os estudantes julgam que devem trabalhar «na área» (seja lá o que isso for) e os gestores de empresas são, na maioria dos casos, gente sem noções básicas de Gestão de Recursos Humanos ou de Economia do Trabalho. Além disso, podemos supor alguns problemas na qualidade dos programas oferecidos. O que não podemos dizer nunca (e muito menos em directo na televisão, a menos que queiramos ser material cómico para um público alargado) é que uma licenciatura em História produz inúteis. Arrisco-me a dizer que se houvesse melhores cabeças a pensar a RTP, seria maior a probabilidade de vermos, de manhã, um historiador a comentar os nossos dias em vez de um Camilo Lourenço. A inutilidade, no fundo, é sempre muito relativa.
segunda-feira, 25 de fevereiro de 2013
Odisseia
O programa de Bruno Nogueira e Gonçalo Waddington na RTP é uma obra-prima da comédia artística. A afirmação pesa minuciosamente cada uma das palavras que a compõem. Nos últimos dez anos a televisão portuguesa tem sido povoada pelos mais variegados programas de comédia. Do perene grupelho da Revista, que não tem graça alguma e é encabeçado por Monchique e Ana Bola, até à revolução dos Gatos, passando pelos Contemporâneos, o Bruno Aleixo e tantas outras minudências. Nada disto, no entanto, se equipara ao que Odisseia é.
A história, para quem não a conhecer, é a de dois amigos, o Bruno e o Gonçalo, que percorrem o país numa autocaravana depois de o primeiro se entupir de comprimidos. Se isto parece ser o ponto de partida para um filme de má qualidade, o facto é que tudo se desenrola depois maravilhosamente. O carácter fragmentário da própria obra (chamo-lhe obra porque sim) obriga a que, para a explicar, se recorra a pequenos espisódios. Num, uma Rita Blanco louca chega pela abertura do tecto da autocaravana e entre menções a orgias, rapta os dois e obriga-os a acampar na floresta, onde mata com uma balista um rapaz das pizzas e de onde se atira de uma ribanceira. Noutro, o Belele está mal pendurado numa corda com que se tentou enforcar; depois de discutirem se o devem ou não ajudar, tiram-no de lá e levam-no com ele na viagem; ele acaba a matar-se mesmo e, já depois de morto, faz o epílogo do episódio. E há também aquele em que num café onde pedem um papo seco e um copo com água, gozam com dois mitras letrados; mais tarde, os ditos vão ao encontro da parelha e obrigam-na a jogar à roleta russa para castigo; no clímax, Bruno Nogueira manda que pare a cena: o chefe dos mitras estava a dar estaladas a sério e não «estaladas técnicas».
O programa é inteligente sem a pretensão de ser intelectual. O guião é grotesco e trata a abjecção com a naturalidade dos grandes romances. Há morte e doença e infortúnio diverso misturados com uma gargalhada que, no fim, acaba a dar sentido a tudo. E depois há técnica, seja lá isso o que for. Os saltos entre a ficção e o real (um real que é apenas «real», porque nunca saímos da «cena»), a ambiguidade no uso dos nomes próprios dos actores e a qualidade dos diálogos compõem um ramalhete de absoluta harmonia estética. De novo, e pesando cada palavra: é uma obra-prima. Só espero, por paradoxal que pareça, que não haja mais nenhuma série além da primeira.
domingo, 24 de fevereiro de 2013
Amor e Morte
Os protagonistas de Amor são velhos; sobre a protagonista abate-se uma doença de velho; na narrativa há jovens negligentes; conhecemos enfermeiras que cuidam de velhos. E apesar disso, Amor não é uma alegoria sobre a velhice. Poderia ser, mas não é. A velhice é pretexto, é contexto. Evidentemente, como cabe a um bom cineasta, é tratada de forma belíssima. Mas tanto quanto as estantes de livros na sala-de-estar, ou o sotaque da Rita Blanco. O que é verdadeiramente fundamental – perdoe-se-nos a linearidade – é o amor.
Toda a película é um ensaio sobre as contingências de um amor que, ao contrário da vida, é eterno. Mais, é um ensaio sobre o confronto dessas propriedades dicotómicas: a eternidade de um e a finitude da outra. E é aqui que reside a importância do contexto. Se Amor fosse a história de dois adultos normais, este confronto estaria ausente, porque a morte antes da velhice é evento que se julga quase irregular. Não é da natureza das coisas. Utilizando para peões dois velhos, não há irregularidades; não há escapes para o embate com a realidade imposta. Vendo dois velhos, para os quais a morte próxima é uma condição necessária, não há espaço para tornearmos o problema com considerandos mais ou menos pertinentes sobre o destino. Enfrentamos o verdadeiro problema sem desvios.
No fundo, Haneke dá-nos aquilo que é a melhor versão dos nossos futuros. O melhor que nos pode acontecer é perceber um dia que temos alguma eternidade que choque com a nossa efemeridade. E essa ideia faz-nos chorar, talvez porque também o faça chorar. Haneke tem 70 anos.
Subscrever:
Mensagens (Atom)